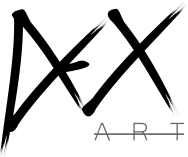Ser artista é difícil.
Não difícil de um jeito simples, desses em que a gente respira fundo e diz “vai passar”.
Difícil de um jeito que atravessa o corpo, a rotina, as contas, a autoestima, o silêncio e até o sonho.
Porque a dificuldade não começa em uma parte específica: ela se instala em tudo, como poeira fina que se infiltra no ateliê — e na vida.
Logo cedo, quando abro os olhos, já existe um peso: o desejo de criar e a urgência de sobreviver.
Eu queria apenas pintar.
Acordar, preparar o café, olhar a luz batendo na parede e sentir a vontade tranquila de ir para a tela.
Mas não: antes do pincel, vem o calendário.
Vem a planilha.
Vem o medo.
Porque, além de pintor, tenho que ser vendedor.
Aprender a falar de dinheiro com voz firme, quando por dentro tudo treme.
Tenho que transformar o que sinto — o que é meu, íntimo, frágil — em produto.
Tenho que dizer “essa peça custa tanto”, quando tudo dentro de mim gostaria de responder “não sei, ela me custou noites em claro, memórias antigas, angústias que ainda não cicatrizaram. Como colocar preço nisso?”
E não basta vender.
Queria apenas expor, deixar que a obra encontrasse seus próprios caminhos.
Mas também tenho que ser meu próprio social media: inventor de posts, editor de vídeos, curador de mim mesmo.
Tenho que decidir filtros, ângulos, hashtags, timing — quando, na verdade, tudo o que quero é um pouco de pausa, de sombra, de respiração.
A verdade é que esperar ser descoberto é uma fantasia confortável.
Um conto de fadas moderno.
Quem sabe alguém me vê, me entende, me abraça artisticamente, me leva para onde eu eu mereço?
Mas o mundo não funciona assim.
Então eu saio.
Coloco a cara.
Enfrento o desconforto dos olhares.
Participo de eventos de pintura ao vivo, tentando parecer seguro enquanto uma multidão me observa trabalhar, como se cada pincelada fosse um espetáculo em si.
Dou workshops e oficinas, ensino técnicas enquanto tento lembrar a mim mesmo que ainda tenho muito a aprender.
No fundo, temo que nunca serei apenas um pintor.
Não por falta de talento — mas por falta de dinheiro.
Não posso contratar alguém para cuidar das partes que drenam meu tempo, minha energia, meu sossego.
Sou meu próprio gestor, assistente, divulgador, contador, fotógrafo, embalador, motorista, relações públicas.
Sim, eu queria ser apenas eu.
Mas isso parece um luxo inacessível.
E a cabeça começa a fantasiar:
ser famoso resolveria tudo.
Ter muito dinheiro.
Ser reconhecido.
Ser requisitado, disputado, desejado por galerias, colecionadores, curadores.
Ser convidado em vez de pedir espaço.
Ter gente que faz o que hoje eu faço sozinho e mal.
Ter tempo — ah, o tempo — de verdade.
Mas não posso me apoiar nisso.
Fama não é plano, é sorte.
É acidente.
É alinhamento de astros.
E astros não costumam se alinhar para quem conta moedas no final do mês.
Então sigo.
Sigo lutando, sigo apanhando, sigo sendo minha própria engrenagem.
E, a cada queda, descubro que a arte insiste em brotar.
Como se, de alguma maneira, as surras alimentassem a tinta.
Talvez seja isso:
a espera, a dureza, a falta de dinheiro, a frustração — tudo isso vira cor, vira gesto, vira traço.
Vira sentido.
A inspiração, paradoxalmente, mora mais na escassez do que na abundância.
A arte parece gostar de nascer das frestas:
do cansaço, do atraso, da dúvida, do medo de não ser suficiente.
Porque a arte, essa teimosa, só precisa de um fragmento de verdade para existir — e a verdade costuma aparecer justamente quando tudo dói.
Ser artista é acordar com uma vontade enorme de desistir e, minutos depois, sentir a mesma força enorme de continuar.
É viver no pêndulo entre a frustração e o êxtase.
Entre a falta e a criação.
Entre o desânimo e aquele lampejo raro que faz tudo valer a pena.
Talvez a maior dificuldade seja essa:
viver com um sonho que exige muito mais do que dá.
Viver com algo que não cabe na razão, mas que insiste em caber em mim.
E, ainda assim, sigo.
Com pincéis gastos, com telas encostadas, com boletos atrasados, com o coração de artista que não sabe ser outra coisa.
Sigo preparando a festa que ainda não começou.
Sigo montando os enfeites, arrumando a mesa, ensaiando as músicas — mesmo sem saber se alguém virá.
Porque o melhor da festa, dizem, é esperar por ela.
E talvez seja justamente nessa espera — longa, dolorosa, persistente — que a arte encontra o seu brilho mais honesto.
Aquele que não depende de likes, de vendas ou de reconhecimento.
Aquele que nasce devagar, no silêncio do ateliê, enquanto o mundo lá fora corre sem saber que, aqui dentro, eu resisto.